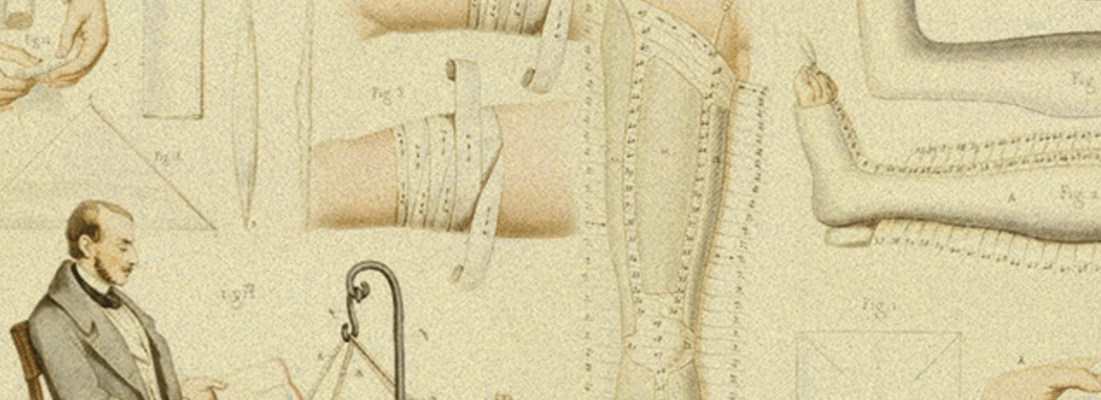
13 jul Coluna Entremez: Diálogo exemplar
O médico residente R1 de ortopedia nunca leu um romance, nem um livro de contos, novelas ou teatro. O mesmo diagnóstico se aplica aos mais de sessenta colegas que o precederam. Iahweh prometeu a Abrahão que perdoaria Sodoma se encontrasse dez justos na cidade. Os residentes de traumatologia e ortopedia, no hospital onde trabalho como clínico, jamais leram um único livro de literatura, apenas os resumos fornecidos pelos cursinhos e pela internet, nas provas dos vestibulares.
Pedi à circulante de sala que chamasse o residente R1, pois não posso entrar no centro cirúrgico, a menos que me vista adequadamente.
– Bom dia, mestre, ele me cumprimenta enfarruscado.
– Bom dia. Você esqueceu de evoluir o paciente que transferimos para a clínica médica. Havíamos acertado que alguém do nosso serviço faria a evolução.
– Eu não dou pareceres porque sou R1. Só o R2 faz isso.
A resposta evasiva baixa minha paciência um andar.
– Sei, mas ele precisa ser acompanhado pelo traumatologista.
– Transfira de volta que eu acompanho.
Trata-se de um doente de 25 anos, portador de diabete juvenil. Sofreu acidente de moto e fratura, há alguns meses. Tinha sido operado, mas evoluiu com infecção dos ossos da perna – no local onde colocaram haste e parafusos – e uma artrite séptica no joelho. Ao usar um antibiótico, houve reação alérgica grave, comprometendo o rim e a pressão arterial. Avaliamos que se beneficiaria num serviço com especialidades clínicas, podendo ser acompanhado pelo ortopedista. Foi transferido e, no dia seguinte, operado novamente. Sangrou durante a cirurgia, piorando a função renal e o quadro clínico.
O diálogo com o residente R1 continua, porém os meus instintos belicosos subiram à cabeça e a paciência desceu aos pés.
– Enlouqueceu? O doente precisa continuar na clínica médica. Ele só necessita de um parecer ou acompanhamento do traumatologista.
– Então peça por escrito, que o R2 vai dar.
– Não foi isso que acertamos, não vou solicitar parecer, porque não faz sentido. Quero que o paciente seja visto e examinado.
– Então, mande ele de volta ou peça um parecer.
– Peça você!, ordeno aos gritos.
– O que é isso doutor? Um ortopedista pedir parecer a um ortopedista?
Desespero-me com os absurdos, a conversa não evolui.
– Mas isso é kafkiano. Desculpe, você nunca leu Kafka, nem sabe de quem se trata, digo quase chorando.
– Ou sofisma, afirmo em voz baixa.
O jovem médico também não sabe o que é sofisma, pois nunca estudou filosofia.
– Que cinismo! Berro e encaro o meu interlocutor.
Ele também desconhece a doutrina filosófica grega dos cínicos, que acreditavam não ser possível conciliar leis e convenções estabelecidas com a vida natural autêntica e virtuosa. Mas, juro, eu não pensava em algo tão superior, meu desejo era apenas chamá-lo de desavergonhado e debochado.
O elevador da minha paciência sofre queda vertiginosa e atinge a garagem. Resolvo o impasse com cinco palavrões, mais adequados do que a vã filosofia. Ameaço: vou comunicar ao chefe dos residentes e do serviço.
Deixo o bloco cirúrgico com suas tragédias corriqueiras, que já nem comovem de tão repetidas e banalizadas. Caminho cego e transtornado. Sou um velho ridículo, fora do tempo.
Tenho dúvida se os médicos residentes, que mantêm um contato apressado e superficial comigo, além de me olharem com desconfiança ou indiferença, seriam pessoas melhores se tivessem lido volumes de literatura. O filósofo judeu-austríaco Hermann Broch estava convencido, nos últimos anos de sua vida, em relação à criatividade e ao trabalho, da primazia do conhecimento sobre a literatura, da ciência sobre a arte. Acreditava na primazia absoluta e inviolável da ética e da ação.
Os médicos residentes com quem trabalho são pessoas comprometidas com a ciência e a ação, vivem ocupados com o aprimoramento da técnica, não sobra tempo para questões que eles talvez considerem menores, como as da filosofia, da psicologia, da arte e das humanidades. Técnica, para eles, tem pouco a ver com a arte de curar, um significado que herdamos dos gregos. Platão definia o objetivo real de toda arte médica como a preservação ou recuperação da saúde. Também defendia como verdade auto-evidente que um dos deveres do médico seria permitir que morressem aqueles que ele não conseguia curar, sem prolongar a vida dos doentes por artes médicas injustificadas. Em oposição, a filosofia cristã e pós-cristã assumiu, de início tacitamente e, a partir do século XVII, de modo cada vez mais explícito, que a vida é o mais alto bem, o valor em si, e que o não-valor absoluto é a morte.
Partindo dessas reflexões de Hannah Arendt, que transcrevo aleatoriamente, pergunto sobre o novo médico, este a quem interessa o êxito de sua técnica e ciência. A morte é um não-valor, ele não a aceita porque significa o fracasso do conhecimento em que se ampara. A vida do paciente possui importância não porque represente o bem mais elevado, mas porque é o laboratório do triunfo da ciência sobre a morte.
O médico deixou de ser alguém preocupado com a saúde, ou um auxiliar na busca para alcançá-la, como na filosofia cristã. Transformou-se no protagonista, o que escolhe entre o que é bom e o que é mau, arbitrando sobre fazer ou não fazer. O doente assumiu o lugar de antagonista, uma ameaça à ação do médico. Embora mesmo desconhecendo, os médicos ainda se orientam pela filosofia cristã, porém esqueceram o seu bem mais elevado, a compaixão, que não se trata de um relacionamento entre aquele que cura e o ferido, conforme escreveu Pemma Chödrön. Mas, de um relacionamento entre iguais. No lugar da compaixão, um Frankenstein maluco, alimentado por hastes, parafusos e pinos, dá as ordens de consumo do que a indústria terapêutica produz.
Crônica publicada na coluna Entremez, da Revista Continente #189, jul 2016.


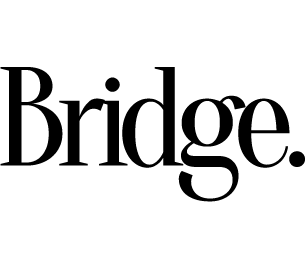
No Comments