
25 abr Não Mora mais Ninguém
Com certeza, não foi na biografia de Gabriel García Márquez “Viver para Contar” onde li a história de um menino que, ao perder a mãe, teve como primeiro sentimento o de que nunca mais comeria arroz doce, porque era ela quem cozinhava o seu prato favorito. Através dessa privação, aparentemente insignificante, a criança elabora a imagem da orfandade, de um futuro sem doçura. Por que estabeleci uma relação entre o fluxo de memória desencadeado pela perda, como acontece diante da constatação da morte, e a obra de García Márquez? Talvez, por algum deslizamento explicado pela psicanálise, ou porque o autor especializou-se no tema, falando sobre ele com humor e tragicidade.
Em “Crônica de uma Morte Anunciada”, o assassinato do personagem Santiago Nassar é revelado já nas primeiras páginas. A narrativa se faz pela reminiscência dos acontecimentos que levam ao desfecho trágico, um passado tornado tão presente pela recordação, que até acreditamos que o final poderia ser alterado, e a morte anunciada acabasse por não acontecer. “Cem Anos de Solidão”, o romance mais famoso do autor, também começa com uma reminiscência: “Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo.” Em “O Amor nos Tempos do Cólera”, a personagem Fermina Daza só consegue chorar a morte do marido quando se encontra sozinha com as lembranças: “Tudo o que era do esposo lhe atiçava o pranto: os chinelos de borlas, o pijama debaixo do travesseiro, o espaço sem ele no espelho da penteadeira, o cheiro pessoal dele em sua própria pele.” Chega até a abalar-se com o vago sentimento de que “as pessoas que a gente ama deviam morrer com todas as suas coisas.” Há um permanente deslizamento de significados. Pessoas e objetos se confundem e ficamos sem compreender se os mortos são lembrados por eles mesmos ou por alguma metáfora do que significavam.
Os egípcios, e até bem pouco tempo os indianos, tinham o costume de enterrar os mortos com suas roupas, alimentos, mobiliários, porque acreditavam que eles fariam uso desses bens numa outra vida. Os motivos eram religiosos, e muitas vezes incluíam o sacrifício de esposas, escravos, parentes, animais. Foram encontrados túmulos com até cento e trinta corpos de pessoas, despachadas na companhia dos defuntos. De certa forma, cumpriam o desejo de Fermina Daza, o de levar para o além tudo o que pudesse recordá-los.
Como nos romances e memórias de García Márquez, o que me impressiona no relato das perdas, independente de quem seja o narrador, são os detalhes que cercam os acontecimentos funestos, deixando a morte, o fato em si, num plano secundário. Da mesma forma que o Coronel Aureliano Buendía não pensou na execução, Fermina Daza preferiu imaginar um meio de livrar-se das tralhas do marido, e o menino sentiu falta de quem cozinhasse arroz doce, todos nós fazemos o inventário dos nossos prejuízos quando morre uma pessoa amada.
O primeiro sentimento que experimentei quando me avisaram que o médico e musicólogo George Laederman havia morrido, foi o de que nunca mais escutaria música. Ao longo de muitos anos fui usuário da sua coleção de cds e dvds clássicos. Nossa amizade se confundia com as sonatas de Beethoven, as cantatas de Bach, os concertos de Vivaldi, as óperas de Wagner, os balés de Stravinsky. Desenvolvemos um dialeto próprio, um jeito cúmplice de nos mover na zorra do mundo, relevando apenas as notas musicais, as sinfonias em que nunca desafinavam violinos do mensalão, contrabaixos de paraísos fiscais, fagotes de políticos inescrupulosos.
Com George Laederman não existia tempo ruim, apenas música ruim. Ele nunca começava uma conversa perguntando “tudo bem?” ou “como tem passado?”. Perguntava se eu já tinha escutado uma nova gravação das partita de Bach, ou se ouvira Nelson Freire tocando os estudos de Chopin, ou árias seletas na voz de Kiri Te Kanawa. Se eu o consultava sobre um determinado concerto, ele me oferecia cinco versões diferentes da sua coleção que, perfilada, ocupava cem metros lineares de estantes, uma apreciável Alexandria sonora. Ao tomar conhecimento da morte do amigo, pensei, como o menino do arroz doce que nunca mais ouviria música, que com ele haviam sido enterradas as belas sonoridades do mundo. Mas todas as músicas permaneceram, e nelas, a lembrança de Laederman, ou ele mesmo.
Existe um escritor peruano, pouco conhecido no Brasil, por conta do isolamento a que foi condenada nossa América do Sul, que reforça o mesmo ponto de vista de García Márquez sobre a permanência das pessoas nas casas e objetos, depois de morrerem. Assim como em Pernambuco ignoramos o que escrevem os poetas cearenses, no Brasil desconhecemos a poesia do Peru, Chile, ou mesmo Argentina. César Vallejo, grande poeta peruano, escreveu um poema em prosa, intitulado Não mora mais ninguém.
…quando alguém vai-se embora, alguém permanece. O lugar por onde um homem passou nunca mais será ermo. Somente está solitário, de solidão humana, o lugar por onde ainda nenhum homem passou.
Sim, as mãos que mexiam o arroz doce partiram, mas o afeto que impregnava o açúcar, misturado ao cravo e à canela, permanecem eternos.


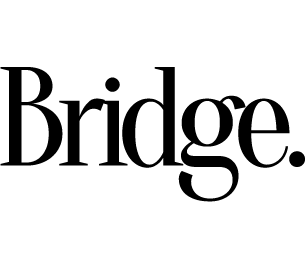
No Comments