
27 jan Assombrações do carnaval
Sempre me considerei um amante do carnaval, embora não seja propriamente um folião. O amante aprecia a música, as evoluções e as nuances que passam despercebidas a quem brinca movido a álcool. Não saio de casa fantasiado na sexta-feira, para só retornar de pileque na quarta, como fazem os foliões lendários. Aprecio ensaios e prévias, visitas às sedes dos clubes e desfiles.
Cheguei a catalogar quase todos os caboclinhos, maracatus, blocos, clubes, la ursas, bois e troças do Recife. Não faltava aos encontros com os brincantes e tinha um gosto especial em ver a confecção de figurinos, estandartes e das complicadas golas dos caboclos de lança. Fui tão assíduo que supunha não acontecer carnaval sem a minha presença. Mas, acontece. Ninguém é dono do carnaval, por mais que alguns tentem estabelecer cordões de isolamento, abadás, horários e camarotes vips. A magia do carnaval reside na desordem, no caos que precede o cosmos da quaresma. Mas essa análise é complicada e prefiro deixá-la por aqui.
Sou um voyeur disfarçado em brincante, meu gosto se limita a ver, ouvir e roçar. Não faço questão do amasso, de ser esmagado pela multidão possessa, subindo e descendo ladeiras, atravessando pontes, endiabrada. Minha primeira visão do carnaval foi a do próprio Satanás. Ou a cópia dele, para ser mais sincero. Eu já morava no Crato, tinha cinco anos e fora comprar picolés numa sorveteria da praça Siqueira Campos. Vi a marmota vermelha e preta, parecendo jogador do flamengo, com rabo, chifres e tudo de mais infernal. Poderia correr, porém mesmo na infância o mal me atraía. Fiquei olhando, sem compreender o que demônio viera fazer no Crato, rodeado de jipes sem capotas e canos de escape, apitando igual à usina de beneficiamento de algodão dos Arraes. As pessoas cantavam e dançavam frenéticas, sujavam-se de talco e cheiravam lança-perfume.
Voltei para casa e falei aos meus pais que tinha visto O Tinhoso, o Próprio. Ninguém acreditou em mim e mandaram que eu me deitasse na rede e dormisse. Deitei, mas não dormi. Vez por outra passava um jipe apitando e eu ouvia os gritos dos pierrôs, colombinas, dominós, palhaços, rumbeiras, bailarinas e outros diabos. Deus inventara o carnaval para mim. O sertão vazio e vago que eu trouxera comigo dos Inhamuns enchia-se de imagens miraculosas. Era meu primeiro dia e eu achava que tudo aquilo era bom.
O segundo dia da invenção do carnaval aconteceu no Crato Tênis Clube. Uma orquestra de metais e percussão animava uma matinê, onde homens adultos usavam paletós de linho branco, chapéus panamá e cheiravam lança perfume. Seus filhos pequenos pulavam ao som de marchinhas cariocas ingênuas e frevos. Eu me encantava com confetes e serpentinas, as belas fantasias que nunca tive coragem de vestir, e com certa marcha de bloco, entoando os nomes misteriosos de Felinto, Pedro Salgado, Guilherme e Fenelon. A música se diluiu em meu sangue, ganhou corpo e desejo de conhecer o Recife, que adormecia e ficava a sonhar, ao som de triste melodia.
Foi na rua Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, que aconteceu o encontro definitivo com o carnaval. Vivia dias nervosos de preparação para o vestibular de medicina, anorexia ansiosa e noites mal dormidas. Meu companheiro de estudos morava num velho sobrado com restos de azulejaria portuguesa, na rua da Soledade. Eu seguia distraído para a casa dele, os livros e as apostilas debaixo do braço, repassando na memória a tabela periódica e lições de química. O som forte dos chocalhos demorou a penetrar no meu campo de percepção auditiva. Quando dei fé, o Caboclo estava a uns cem metros de mim. Dizem que alguns desses caboclos chegam a amarrar seiscentos metros de fita na lança. No surrão que carregam às costas, penduram chocalhos grandes e pequenos, causando uma barulheira infernal quando flexionam o tronco em movimentos ritmados. Por cima do surrão vestem a gola bordada de vidrilhos. Na cabeça, o funil, uma espécie de chapéu com milhares de tiras finas de papel celofane. E ainda usam os calções, as meias de jogador, óculos escuros e um cravo na boca. Alguns pintam o rosto de barro. Uma assombração.
O escritor Eduardo Galeano segurou a mão do pai e pediu que o ajudasse a ver, quando se achou em frente ao mar, pela primeira vez. Eu não tinha a quem pedir socorro. Estava sozinho na rua, o Caboclo caminhava em minha direção, agitando a lança. As pernas fraquejaram, sentei no meio fio da calçada. Não tinha referências do que fosse aquilo. Só vira algo parecido quando assisti ao desfile do Gran Circo Continental, no Crato. Apelei ao sobrenatural. Meu Deus, o que é isso? Sem que ninguém me respondesse, compreendi que se tratava do Carnaval e do Recife.


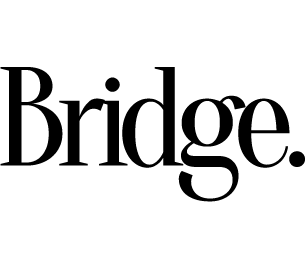
No Comments