
28 jan Nem arte, nem loucura
A sociedade apropriou-se da loucura como um bem descartável, banindo o que havia de sagrado e maldito nesse estado alterado de consciência. Empanturrou-se de drogas, de medicamentos, de álcool, de fumo. E também de psicanálise. Na derrapada, confundiu o estado de transe criador com o delírio esquizofrênico, o jejum da ascese com a anorexia nervosa, a náusea existencialista com a bulimia das modelos de passarelas.
A fantasia de que todos os artistas são seres fragmentados é própria de uma sociedade com rupturas.
Alguns poetas buscaram o absoluto, um fluxo permanente de criação a custo de trabalho e sofrimento. Nietzsche não escreveu delirando, Schumann não compunha em surto psicótico, nem Van Gogh pintava quando estava alterado. Os Upanishads, livro sagrado do povo indiano, define o vazio que antecede o ato criador como um instante de comunhão com o ser: “O mais alto estado se alcança quando os cinco instrumentos do conhecer permanecem quietos e juntos na mente, e esta não se move.” Êxtase, iluminação, revelação ou inspiração, qualquer nome que se queira dar a esse estado, não corresponde à loucura. Ao contrário, é puro conhecimento.
O poeta inglês Wordsworth escreveu “que a poesia é emoção relembrada em tranquilidade.” O mesmo pensou Freud quando afirmou que no ato criador há um fluxo de ideias e imagens que jorram do inconsciente, mas que são polidas pelo consciente.
Na era moderna, o artista desprezou a natureza coletiva da criação, assumindo o caráter da nova sociedade: um exacerbado individualismo. Atribuiu a si próprio a única responsabilidade pela sua arte e nomeou-se “criador”, epíteto antes usado apenas para designar os deuses. A autoria virou a marca do nosso tempo.
Os pintores zen-budistas não assinavam seus trabalhos porque acreditavam que eles só adquiriam existência ao serem contempladas. Qualquer pessoa que olhasse uma aquarela tornava-se o autor, pois a reinventava a partir desse instante de contemplação. Conceito filosófico difícil para a nossa mente ocidental.
A modernidade buscou assinaturas onde elas não existiam, em trabalhos sabidamente grupais, de mestres e discípulos. Os afrescos italianos pintados por corporações de artesãos tornaram-se obras exclusivas de Giotto, Duccio ou Pisanello. Desapareceram os nomes dos pintores artesão especialistas em pés, olhos, dourados, pregas de mantos, molduras, que trabalharam duramente em paredes de igrejas e palácios, crendo que melhor que sonhar uma obra de arte é realizá-la.
Nas tribos, bastava que um membro se desgarrasse dos costumes coletivos para ser punido com a expulsão ou a morte. A mitologia dos povos está repleta de heróis que padeceram na luta pela individuação. Quando uma sociedade se confronta com o artista, ela pode aliená-lo ou elegê-lo seu representante. Espera que ele rompa com as normas estabelecidas e pune-o pelas transgressões.
Surge a figura moderna do artista neurótico, perplexo e fragilizado, que não distingue o eterno do descartável, porque também não lhe interessa a distinção. Tudo é consumido numa velocidade alucinante. O novo envelhece em poucas horas, criam-se outros simulacros, as prateleiras são repostas. O artista se transforma em fabricante de escândalos, em alucinado. Confunde-se arte e produto, poesia e escracho, êxtase e exposição da imagem. E o atributo de loucura serve apenas à ambígua função de justificá-lo e execrá-lo.


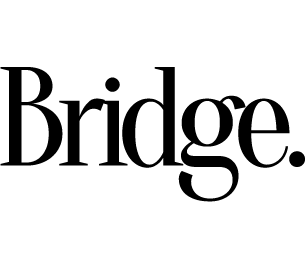
No Comments