
23 jul Os meninos espartanos do Brasil (crítica social, história, política)
Num filme que fez sucesso nos anos oitenta, Pequeno Grande Homem, do diretor Arthur Penn, o chefe cheyenne Velha Pele Curtida decide morrer. Ele sobe uma colina e se deita no chão, esperando a morte. Mas a morte não vem e o índio retorna à sua tribo. O velho Pele não aguentava mais o genocídio do seu povo, praticado pelo exército. Lembrei-me do filme, porque também desejei morrer. Deitei-me três dias num sofá, mas a morte não veio e eu retomei a vida e os afazeres.
Meu desgosto também foi causado pela sensação de extermínio que estamos sofrendo. Às vésperas do São João, ouvi estampidos próximos à minha casa. Imaginei que fossem fogos. Depois de um tempo escutei gritos. Temeroso, olhei pelo portão. Avistei um menino franzino, em torno dos catorze anos, sendo massacrado por vários homens com murros, chutes e pauladas.
O garoto, na companhia de outro mais velho, assaltara o motorista de uma escola, carregando sua bolsa e duzentos reais. O mais velho desapareceu da cena com o dinheiro, e o guri tentou fugir numa bicicleta. Dado o alarme, um vigilante da rua correu atrás para pegá-lo. Quando se sentiu acossado, o menino sacou um revólver e disparou cinco vezes, sem acertar o perseguidor. Derrubado da bicicleta, começou o massacre. O vigilante quebrava o menino no chute, aos gritos de “você ia tirar minha vida, cara!”, e vários palavrões. Chegaram o motorista e o porteiro da escola, os desocupados da rua, gente que passava de carro. Procuravam objetos com que bater, esmurravam, sacudiam, pisavam o corpo mirrado do garoto, num frenesi de possessos.
Parti em defesa da vítima. Falei que não podiam fazer justiça daquela maneira, ordenei que parassem de matar o infeliz. Ameaçaram-me. Disseram que eu ficasse longe, se tinha amor à vida. Investi novamente, gritando mais alto, tentando intimidá-los. Senti que vinham em cima de mim e recuei. Tive medo das figuras embrutecidas, dos olhares enfurecidos. O menino tentava se levantar e eles o derrubavam. Percebi o frenesi coletivo. Senti-me impotente e voltei para casa. Mais tarde vi a poça de sangue e soube que obrigaram o proprietário de um carro a levar o garoto quase morto para o Hospital da Restauração.
Ainda hoje não compreendi a lógica perversa. Sou médico e durante muitos anos trabalhei em emergências públicas. Quando tentei evitar a matança, fui rechaçado. Depois, os assassinos mandaram a vítima agonizante para ser salva pelos médicos.
A visão de um linchamento é a mais terrível das experiências. O impulso de agir em defesa da vítima, colocando nossa vida em risco, se choca com o nosso instinto de sobrevivência. Olhamos um menino sendo morto porque roubou duzentos reais e tentou matar seu perseguidor. Enxergamos apenas que se trata de um menino, que merece proteção e cuidado. Investimos de encontro à turba e no primeiro embate compreendemos que também seremos massacrado ou morto. Ninguém reconhece ninguém em meio ao transe, até os amigos se estranham, há apenas uma força destrutiva movendo as pessoas. Se a razão prevalece sobre o impulso humanitário, o herói recua, “fechando a abertura para a consciência metafísica de que você e o outro são um, de que você é dois aspectos de uma só vida”, como afirma Schopenhauer. Mesmo que esta vida seja a de um menino bandido.
Deprimi-me e desejei morrer como o chefe cheyenne. Busquei a compreensão da sociedade brasileira em que vivo, bem longe na história. Na Esparta do século VII AC existia uma organização política e um sistema de educação baseados no terror e no controle absoluto do Estado sobre a população. Quando os meninos completavam doze anos eram enviados para o campo, onde deviam sustentar-se por conta própria e roubar parte de seus alimentos. Caso fossem apanhados nesse ato, eram severamente castigados, não pelo roubo, mas pela demonstração de inabilidade. Aos dezessete anos deviam passar por outra prova: de dia espalhavam-se pelos campos, munidos de punhais. À noite deviam degolar quantos escravos fossem capazes.
Na cidade grega, era a nobreza quem partia para o roubo e o assassinato, a serviço do terror do Estado e do controle da população de escravos. Aqui, os jovens pobres assaltam e matam a classe privilegiada mantida sob terror e exterminam a si próprios. Quando falham, são trucidados ou mortos. Em Esparta, os papéis sociais eram claramente definidos, constituindo-se verdadeiras castas, sem perspectivas de mobilidade. No Brasil, dizem existir mobilidade social.
Mas a nossa democracia de origem ateniense não encontrou saída para as desigualdades que geram a fome, a miséria, a falta de educação e saúde, o desemprego e a violência. Os adolescentes que roubam e matam não o fazem por um modelo de educação, como em Esparta. Agem pela falta de perspectivas na vida, por serem desagregados sociais sem família, sem religião e sem crença no Estado. Roubam, matam e morrem sem sentido. E quase ninguém os lamenta. A não ser os que ainda sonham com um mundo mais justo e igual.


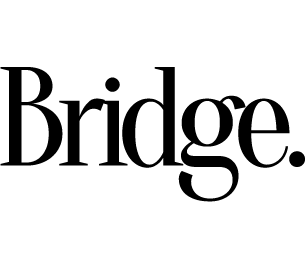
No Comments