
25 maio Homem sentado no meio fio
Dizem que não aprecio as cidades. Pura invenção. Costumava caminhar pelas ruas antigas do Recife como quem percorre as galerias de um museu: olhando quadros e enxergando o que se oculta por trás de pinturas emolduradas. Recife é um palimpsesto de aquarelas submersas na caliça úmida das paredes e na lama do mangue. Basta remover a tinta de uma porta arruinada para surgirem imagens extravagantes. Eu me alheava do mundo procurando recantos escuros aonde a luz do sol e dos postes nunca chegou, igual a um cão farejando sobras de comida. Meu prazer consistia em revirar tonéis repletos de tudo o que se imagina lixo.
Ia da ponte mais distante sobre o rio Capibaribe até a rodoviária. Nunca mais fiz o percurso. O terminal mudou-se para longe do velho centro e eu também me transformei: agora prefiro o interior seguro de um carro refrigerado. Deixo de ver cenas que se mostram apenas aos andarilhos. De carro, não veria a anã sentada no caixote, em frente ao pardieiro. As casas ainda possuíam entrada lateral, um pátio onde se plantavam romãzeiras que não produziam além das flores. Romãs e tâmaras, nostalgia de um passado oriental de mascates sírios e libaneses.
A anã recostava-se na parede frontal da casa com porta e janelas para a rua. Não lembro se cantarolava uma cantiga de roda, enquanto esperava alguém. Suponho que sim, do mesmo modo que imaginei ter visto além das janelas, numa cama desarrumada, dois gatos se enroscando entre lençóis puídos. Ou seriam dois bebês, um preto e um branco? Os bebês eu vi em outra casa do bairro, numa festa carnavalesca, há muitos anos, quando atravessei os corredores de um sobrado ameaçando cair. Meus amigos garantem que sofri uma alucinação, pois sempre fui dado a visagens. Mas juro ter visto o quadro estranho, com a lucidez de um assombrado.
Os dois meninos lembravam os santos Cosme e Damião. Mais tarde, investiguei a mitologia dos orixás e compreendi tratar-se dos Ibejis, gêmeos travessos que brincam com fogo. Na casa, praticava-se a religião africana e certamente os dois bebês estavam de visita. Descobri nos livros que até mesmo a morte os dois peraltas enganaram, quanto mais um sonhador e aluado como eu.
No Carnaval, alguns foliões abriam as residências para os blocos do Recife, oferecendo comida e bebida. Não pediam nenhum dinheiro em troca, queriam apenas o gozo da festa. A dona da casa onde vi os meninos estranhos, uma negra criada no culto aos orixás, recebia os brincantes por prazer e tradição. Ela pertencia à terceira linhagem de escravos libertos, mas ainda guardava na memória a fala ritual de sua gente. Cantava e rezava em nagô, mesmo sem saber o significado das palavras que se acostumara a repetir.
No dia em que tive a miragem dos gêmeos, tomamos a casa de assalto. Era assim que chamavam a entrada dos blocos nas residências amigas: assalto carnavalesco. Os músicos largaram os instrumentos, os passistas encostaram o estandarte e o abre-alas do bloco na parede, pois só pensavam em comer e beber. Suarentos e embriagados, comprimiam-se em torno da mesa repleta de frutas, sucos e carnes. Alguns teimavam em cantarolar pedaços de canções, velhas marchas repetidas ao longo dos anos. Quase morrendo de sede, tentei pegar um suco de melão. Mas os foliões excitados e famintos não abriam um espaço na mesa para mim. As melancias, as mangas, os sapotis e as laranjas se afastavam para mais longe; os bolos de macaxeira, o mungunzá e as tapiocas se transformavam em desejo e saliva na minha boca.
Sou empurrado para fora do círculo da mesa, fico tão distante que os sapotis e as mangas viram pinturas de uma natureza morta. Desisto. Deixo para trás os glutões de Momo e me aventuro casa adentro. Caminho por um corredor longo e estreito, como um sonâmbulo que não se perde nem esbarra nos obstáculos. Já estive ali em outro tempo? Só se foi em sonho. Há uma profusão de quartos, portas abertas e fechadas, armários, cadeiras, trastes indecifráveis na penumbra. Numa cama de casal, avisto os dois bebês engalfinhados, um preto e um branco. E sete passos adiante, numa sala iluminada por uma lâmpada presa ao teto, três pretas velhas bebendo aguardente em volta de uma mesa.
– Quer? – me oferecem.
– Obrigado, não bebo cachaça.
As três riem do meu acanhamento. Uma delas comenta:
– Você não sabe o que perde.
Sei que perco nuances de um Recife de belezas e armadilhas. Prefiro fechar-me num carro blindado.
– Quem são os dois meninos na cama? – pergunto.
– Ah! Os meninos. O senhor viu?
– Vi.
Elas gargalham em coro e entornam a bebida goela abaixo.
– Se o senhor viu é porque nem tudo está perdido.
E bebem mais cachaça e riem com descaramento de minha surpresa.
Do jeito que agora rio da anã, sentadinha no caixote. Também espero acontecimentos no beco estreito apinhado de sobrados, onde antigamente mascates expunham peças de damasco e tafetá de seda, e as mulheres trocavam temperos de uma cozinha para outra, apenas estendendo os braços nas sacadas: pimenta por cravo da índia, noz moscada por alecrim, cardamomo por sálvia.
Sento no meio fio e ninguém estranha meu gesto. O nariz rastreia cheiro de merda por baixo do perfume de mijo das calçadas e ruas sujas. É o cheiro do Recife. Sinto-me um arqueólogo de sensações, investigando a propriedade dos corpos emanarem partículas voláteis, capazes de provocar abalo no olfato humano. Aspiro cheiro de santidade e latrina acumulado em quinhentos anos de construções e desabamentos, revoluções e esbórnia, com o mesmo fervor e devoção.
– Já comeu?
– Comi – respondo mentindo.
– Comer é importante. A comida sobrou da obrigação do Santo, mas não é sobejo. Coma sem nojo.
As pretas se referem à mesa posta para os brincantes, a que não consegui alcançar, apenas ver de longe e sentir desejo. Frutas, cereais e carnes da culinária nagô, na casa onde se festejam os orixás e o carnaval.
– Então, beba.
– Desculpem, não bebo cachaça.
– Nem oferece ao Santo?
– Não sou devoto.
A mais gorda comenta:
– Mas vê coisas. Imagine se fosse.
Todas gargalham alto e bebem.
A anã se mexe no assento improvisado. Nem observei que entrara em casa, trazendo uma garrafa de cerveja. Distraio-me com facilidade. A mulherzinha provoca turbilhões nos meus pensamentos, me desvia do projeto de chegar à rodoviária e enviar uma encomenda para a cidade onde nasci, um lugar bem longe, diferente do Recife que busco atravessar, mas não consigo.
– Queridos pais, segue…
Não contava com o obstáculo do caixote, a cena que manda ao inferno meus deveres de filho.
– Queridos pais: saí do apartamento com o propósito de enviar os remédios de vovó, pedidos para comprar aqui, porque o preço é bem mais em conta. Atravessei ruas de casas que já foram habitadas por famílias e se transformaram em comércio, numa vocação de mascatear que o Recife possui desde sua fundação. Passa de sete da noite, baixaram as portas corrediças das lojas, e pelas janelas entreabertas avisto retardatários arrumando mercadorias. Não sei o que eles pensam e essa ignorância me inquieta. Sinto-me perdido em meio a frutas podres, esgotos, lixo e cães vadios. Não consigo ir além de uma linha divisória: um caixote onde uma anã sentou-se, como se fosse rainha do mundo. Quem essa mulherzinha pensa que é? Reconheço nela, aterrorizado, uma grandeza que antes me escapava. Minhas pernas tremem.
As três mulheres em volta da mesa bebem mais copos de aguardente, como se bebessem água. Nas paredes, velhos estandartes de clubes e blocos acumulam poeira. Num nicho de pedra, uma vela acesa para não sei que santo ou finado.
– E o que você faz aqui?
– Vim atrás do bloco.
– E saiu bisbilhotando.
– Desculpem, é um vício de menino.
Estacionou um automóvel numa casa vizinha à da anã. Uma senhora sai, entrega um pacote ao motorista e recebe dinheiro. O automóvel se afasta explodindo o escape. A senhora cumprimenta a anã. Ouço a pergunta:
– E ele?
Um estampido mais alto não me deixa ouvir a resposta.
Descubro casas habitadas por moradores escondidos e anônimos. Eles reinventam a antiga arquitetura, improvisam cozinhas, salas, quartos e banheiros, criam hábitos inexistentes, calendários e relógios em descompasso com o tempo da cidade.
– E o Recife adormecia
ficava a sonhar
ao som da triste melodia.
Escutei perfeitamente. A anã cantarola uma marcha de bloco, a mais famosa, entre um gole de cerveja e uma baforada de cigarro. Olha para o meu lado, mas não é a mim que espera.
A porta de uma casa se abre. Um homem acompanhado de seu cão joga sacos de lixo na calçada. Entra de volta e fecha a porta. Sinto-me acabrunhado e sozinho. O que ainda me prende nesse lugar de sombras? Se me puser a caminho, alcançarei o ônibus para minha cidade. Mas não consigo transpor a linha imaginária que delimita o lugar marginal onde eu e a anã nos sentamos, esperando alguém.
Ouço passos atrás de mim, mas não deve ser ele. Nunca o imaginaria sorrateiro, oculto pela sombra das paredes. Ele chegará à nossa frente, cansado e feliz. Já de longe sorrirá para a anã, que o reconhecerá pelo cheiro de graxa da roupa, pelo assobio fino, pelo jeito macio de caminhar.
É mesmo ele quem chega igualzinho a todas as noites. Levanto-me como no cinema, antes do beijo final. A anã também se levanta do caixote, vai ao encontro do homem e estende a mão. Se fosse um pouquinho mais alta, enlaçaria a cintura do amado.
Cruzo com os dois sem cumprimentá-los. Olho uma última vez para trás. De costas, eles formam um casal harmonioso. Parecem gêmeos.


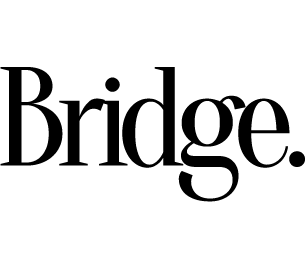
No Comments