
08 fev Cristo nasceu em Macujê
Aposto que vocês não conhecem Macujê, um distrito de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco. Querem aprender como se chega lá? Passando por Timbaúba, entrando para Ferreiros e seguindo um caminho de doze quilômetros por dentro dos canaviais. A estrada de barro é esburacada e poeirenta no verão, cheia de lama e atoleiros no inverno. A única paisagem é o canavial. Os olhos celebram uma árvore, quando aparece alguma, isolada e triste no meio da cana.
Macujê é um lugar aonde se vai apenas a negócio. E como há poucos negócios por lá, a não ser os da cana, quase ninguém visita Macujê. Se pelo menos ainda existisse uma boa reserva da mata atlântica, com fauna e flora exuberantes. Mas botaram tudo abaixo, não sobrou nada. Dois ou três hectares de mato estorricado, salpicados entre os pés de cana, representam nada para mim.
Nem pense em pescar em Macujê, apesar da sonoridade indígena do nome e de significar fruto de sabor agradável. O rio Capibaribe Mirim, que inundou a periferia miserável da cidade de Goiana, transformou-se numa latrina. Antigamente, as pessoas viviam da pesca de peixes e camarões, as mulheres lavavam roupas nos remansos d’água, os meninos tomavam banho e contraíam esquistossomose. Agora, ninguém se arrisca a molhar os pés.
Com todos esses defeitos, uma população pobre de três mil habitantes, a ausência de restaurante onde se possa matar a fome, as casinhas feias, a igreja mal conservada, o calor sufocante, Macujê passou para a minha vida como o lugar onde compreendi em definitivo o significado da palavra arrogância. Parece brincadeira, mas juro que nunca escrevi tão sério e comovido.
Fui a Macujê pela primeira vez trabalhar com alunos, professores e agentes comunitários numa campanha de arte educação em saneamento básico e saúde. Como não existiam espaços disponíveis, ficamos na garagem de uma casa, instalados entre bancos velhos de ônibus, sucatas de carros, armários e mesas. Nenhum cenógrafo conceberia um lugar mais desconfortável e inadequado para uma oficina de interpretação.
Abaixo do nosso local de trabalho, construíam uma estação de tratamento de esgotos. De dez em dez minutos subia um trator com a pá carregada de barro e, no intervalo, descia outro vazio. A bomba d’água da casa, instalada na garagem, também precisava ser ligada. Os participantes, em torno de vinte e cinco, quase todos jovens, não se importavam com essas interferências, que me deixavam nervoso e esgotado. Nem mesmo as pessoas nos espiando pelas janelas e pelo portão, pareciam incomodá-los. Prevalecia o desejo de aprender algo novo.
A vila se agitava para um acontecimento. No final da tarde, no pátio da igreja, se apresentariam emboladores, atores e atrizes com esquetes improvisados sobre os temas da campanha de saúde. Os moradores pronunciavam “teatro” com os acentos mágicos da palavra. Às três horas, largados os afazeres, amontoavam-se numa plateia ao comprido da rua. Às cinco, sabiam que o carro que traria os artistas quebrara no caminho, perto de Recife e que a tevê Globo não faria a cobertura do evento, como havia sido prometido.
Enquanto aguardávamos a chegada da equipe, distraíamos o público. Trouxeram caixas de som e dois microfones da vila, que deformavam as vozes. Ninguém compreendia nada, por mais que gritássemos. Não havia fios de extensão e ficávamos limitados à porta da igreja. Um passo à frente e tudo se desligava. Joguei os alunos da oficina no meio das pessoas, promovi-os a atores. O meu assistente transformou-se em palhaço. Somente quando os titulares pisaram o palco, depois de duas horas de espera, cessou o clamor dos frustrados e escutaram-se aplausos.
Às oito horas da noite, no meio da festa, Macujê foi envolta por uma fumaça sufocante, provocando tosse e lacrimejamento geral. Do alto, avistávamos incontáveis incêndios, as queimadas da cana. Cercados pelo fogo, temi morrermos assados naquele inferno. Do Capibaribe Mirim, correndo sujo lá embaixo, subia a catinga do vinhoto, lançado nas águas do rio pela usina. E mais tarde, a apoteose: uma chuva de fuligem, o malunguinho, caindo do céu como se nevasse preto numa noite de Natal europeu.
O descaso pelo outro faz que joguem os dejetos das usinas nos rios, envenenem o ar, encham as casas de fuligem. Tudo em nome de uma economia que há muito dá sinais de falência, mantendo-se artificialmente com a ajuda do Estado. A quem beneficia persistir no erro? Por que nunca se teve coragem de buscar uma outra cultura, além da cana, para a Zona da Mata?
João Cabral escreveu o seu poema natalino, de morte e nascimento, descendo o rio Capibaribe, de Toritama a Recife. Subindo em sentido contrário, do mar até a mata, pelas águas podres do Capibaribe Mirim, chegaremos em Macujê. Mata, ali, é um nome arbitrário, pois só existe cana. Arbitrária, também, é a vontade dos que envenenam sua gente, há tantos anos, sem nunca atentarem para o sentido de compaixão, o sagrado ideal pelo qual morreu o Cristo. Este que celebram no Natal, esquecidos de quem foi e para que veio. Ligados apenas nas boas castanhas portuguesas, no vinho tinto, no peru suculento, na troca de presentes.
O álcool das libações natalinas é como a fumaça da cana queimada, envolvendo Macujê. Obscurece a realidade mas não a transforma. Numa casa, onde se costuma passar fome na entressafra, nasce um Jesuscristinho, sujo de fuligem e com a foice de cortar cana na mão.
– Seja bem vindo! Deus o salve! – dizemos.
E é tudo o que podemos fazer?


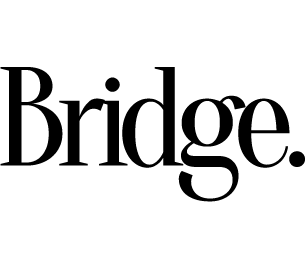
Amaro Agostinho dos Santos Junior
Posted at 15:04h, 08 fevereiroMuito triste e verdadeiro. Derrubamos as florestas, assassinamos toda a vida e biodiversidade que existiam ricamente nas matas e nos rios . Escaravizamos nossa gente na pobreza e na miséria. Tudo virou cana, fuligem e desalento. E é tudo o que podemos fazer ?
Quando vamos replantar as florestas que habitavam em Macujê e em toda a zona da mata pernambucana ? A mata atlântica que nos tornava gente? Quando vamos ter coragem de trazer a vida de volta ? Nossas vidas que nos foram roubadas.