
16 out À procura do tempo perdido
Benjamim, o neto de dois anos, brincava de esconde-esconde em nosso apartamento. Escondeu-se atrás de uma cadeira velha, mas saiu depressa do refúgio.
– Eca, fede a sapato, falou.
Que olfato bom! O cheiro ainda se guardava, apesar dos anos de uso. Meus pais compraram o conjunto de quatro cadeiras de sala, duas delas com balanço, no ano de 1955, quando chegamos de mudança ao Crato, vindos da fazenda Lajedo, no sertão dos Inhamuns. Um marceneiro da cidade produziu-as em peroba amarela – o pequiá-marfim –, com assentos e encostos de couro bordado, presos por taxas de cobre. Eram móveis bonitos, comuns nas casas sertanejas.
No romance Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, um coronel se decide a apoiar certo candidato porque ao chegar à casa dele, é recebido com poltrona aconchegante, de curvas sinuosas, enquanto na residência do opositor, sentou-se em cadeira reta, desconfortável, de espaldar alto. Gilberto Freyre já tinha comparado a Bahia a Pernambuco, achando que a primeira era feminina, arredondada, macia, enquanto o nosso estado é masculino, sem curvas e duro.
Um dia, ao visitar o Crato, deparei-me com a sala da casa de meus pais repleta de sofás e poltronas. Perguntei pelas velhas cadeiras e minha mãe falou que tinham sido abandonadas no quintal, sob sol e chuva, até que alguém resolvesse aproveitá-las. Esse alguém fui eu. Trouxe-as para o Recife, entreguei-as a um bom restaurador e elas passaram a fazer parte do nosso mobiliário. Três solas tinham se estragado, mas consegui substituí-las.
Não podia abandonar as companheiras de infância e adolescência, onde vivi sentado um tempo tão grande, que imagino identificar as marcas do meu corpo desenhadas nelas. Na dureza da sola e da madeira, sem nenhum conforto ou aconchego, li as obras completas de Machado de Assis e José de Alencar, boa parte do que escreveu Monteiro Lobato, Érico Veríssimo, Jorge Amado e Humberto de Campos, toda a literatura de cordel e as revistas de quadrinho ao meu alcance. E muitos almanaques e folhetins, a biblioteca diocesana completa, com seus livros religiosos, vidas de santos e mártires, um lixo que me impregnou de horror e compaixão para o resto da vida.
Em nossa casa sempre moraram em torno de quinze pessoas – pais, filhos, primos, tios e empregados –, não havia o sossego nem o silêncio que as leituras e os estudos exigem. Eu deambulava com uma das cadeiras por quartos, salas e até pela despensa à procura de tranquilidade. Mesmo havendo armadores nas paredes, não dava para pendurar uma fianga e entregar-me ao ócio das leituras como faziam Amado e Freyre. Esse gosto só era possível nas férias, na casa da minha avó. Porém mesmo lá me importunavam e habituei-me a acordar de madrugada, com a primeira luz, para ler sossegado.
No Crato, o rio Granjeiro corria ao lado de nossa casa. Lugar de muita beleza e sossego, com remansos e sombras de árvores, bancos de areia, pedras e silêncio. Tinha o som da água correndo e do canto dos pássaros, mas isso não atrapalhava. Tornei-me assíduo nesses esconderijos, desaparecia horas, provocando estranheza na família. Mamãe temia por minha saúde mental, não gostava que eu lesse em excesso, achava que ficaria louco como vários doidos da família. Sossegava apenas com as boas notas no boletim e os elogios dos professores às redações que eu escrevia.
Um dia saltei da barreira mais alta do rio para um monte de areia e quebrei o pé. Meu pai não consentiu que me levassem ao hospital para radiografar e pôr gesso, fiquei meses com o pé inchado igual a Édipo. Já conhecia essas histórias da cultura grega, aos catorzes anos os professores me indicaram à biblioteca da faculdade de filosofia e fui introduzido em um mundo de livros como nunca tinha visto antes. Sem qualquer orientação de leitura me iniciei em Homero, Ésquilo, Sófocles, Eurípedes e Shakespeare. Os colegas duvidavam que eu alcançasse autores tão difíceis, eu também tinha dúvidas, mas tateava como o cego Tirésias em meio às narrativas que marcaram minha adolescência e que memorizei pelo resto da vida, igual faziam os gregos, para quem a memória era essencial e a perda dela significava a morte.
Não mencionei o primeiro de todos os livros, aquele que li como se fosse um judeu ortodoxo: a História Sagrada. Refiro tantas vezes essa leitura essencial à minha formação que a deixei de lado. Prefiro relembrar o meu encontro com os escritores modernos da América do Sul, dos Estados Unidos e com os brasileiros, quando vim estudar medicina no Recife. Nesse tempo eu fazia parte de uma confraria de leitores, parecida com a de monges beneditinos na Idade Média, amigos apaixonados pelos livros, que circulavam emprestados por várias mãos, em meio a indicações, comentários, conversas, ensaios, críticas. Criamos um nome para esses fanáticos, A Irmandade de São Leibowitz, inspirado no romance de ficção científica Um cântico para Leibowitz, do escritor estadunidense Walter M. Miller Jr., que narra o fim do mundo numa guerra nuclear e a tentativa posterior à destruição de salvar os livros.
Bom lugar para ler um livro? me perguntam. Qualquer um, quando se lia livros. No ônibus, na fila do banco, enquanto se esperava o começo do filme ou do espetáculo teatral, no quarto, na sala ou jardim de casa, na praça. O livro parece uma extensão do nosso corpo. É bom vê-lo referido a cada página em Proust, Em busca do tempo perdido, ou À procura do tempo perdido, como estão preferindo traduzir agora. Sempre achei mal-usado o tempo em que não se está lendo, vivi perdido entre páginas como os cupins e as traças que devoraram a extensa biblioteca de um primo. Mas essa já é outra história.
Ilustração: João Lin


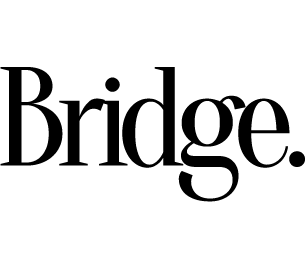
Sorry, the comment form is closed at this time.