
26 jan Ciladas do carnaval
Firme no trabalho resisti a quatro frevos, sabendo que a música troava lá embaixo na Estrada do Arraial. A orquestra era boa e o resto eu não tinha como adivinhar. Aí tocou Último dia, do maestro Levino Ferreira. Não consegui conter o fogo recifense. Larguei o computador e olhei de cima, do apartamento no décimo primeiro andar, achando que os passistas e a orquestra estacionaram de propósito na frente do prédio onde moro, só para testar minha ascese, o propósito de não brincar o carnaval. Luiz Bandeira tinha razão: existe mesmo a embriaguez do frevo, que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé.
Meu desassossego provinha de dezenove músicos e oito passistas, meninos e meninas vestidos de branco, evoluindo em cordões como nos desfiles de rua. As sombrinhas com as cores de Pernambuco giravam nas coreografias do frevo, que incorporou técnicas de várias danças, inclusive do balé clássico. A essa altura eu catalogava a troça, pensando em outra dança dramática do carnaval – os caboclinhos –, lembrava que Mário de Andrade se equivocara quando achou que esses brinquedos iriam desaparecer. Estão cada dia mais vivos, perderam manobras e passos antigos, mas inventaram outros novos.
Quis descer e me contive. Sei que o meu gosto pelo carnaval se liga ao que ele possui de invenção e arte. Sou um fracasso nas libações alcoólicas e recuso qualquer estimulante que não seja a música, a dança, o olhar sobre os brincantes. Em resumo: classifico-me na categoria de um voyeur carnavalesco. Embriago-me com os olhos, os ouvidos, o olfato e a pele. Do meu camarote no décimo primeiro andar posso curtir o carnaval que me encanta, sentir e pensar sobre ele. Já imaginaram um carnavalesco pensativo, sério, escondendo-se pelos cantos, camuflado no meio da zoeira? Sou eu. Limpo as lentes dos óculos, vez por outra saco a caneta e o caderninho do bolso e anoto. É meu jeito de brincar. Um jeito torto. Porém juro que ninguém ama o carnaval mais do que eu amo.
A prefeitura montou um polo de atrações no largo da feira de Casa Amarela, a quinhentos metros de casa. Na segunda-feira à tarde o desejo me invadiu e fui ver o maracatu nação Cabinda Estrela, fundado em 1935. Há maracatus de baque virado bem mais antigos, como o Elefante e o Leão Coroado, mas sempre descubro preciosidades nos brinquedos simples. Nesse grupo prestei atenção numa dama de chita, como chamam as mulheres da corte vestidas com fantasias modestas. A preta velha combinara os panos da saia armada com uma sofisticação de alta costura. O modo como arranjou o turbante e o pano da Costa sobre os ombros revelavam elegância de rainha. Fiz questão de cumprimentá-la e pedir a bênção.
O batuque não me impressionou. É quase impossível no Recife encontrar batuqueiros mais afiados do que os do maracatu Porto Rico e Estrela Brilhante. Suspeitei que iria embora sem ter sido arrebatado por uma emoção forte. Será que o carnaval está me deixando? – pensei estarrecido. Mas aí o batuque, justo a orquestra que me pareceu mixuruca, tocou um ponto de terreiro. Um feirante conhecido, homem velho e sério como eu, caiu no transe e por bem pouco não se esbagaçou no chão. O que é isso, minha gente? – perguntei em voz alta. E aí a coisa veio para o meu lado.
Pensei que fosse um orixá baixando. O batuque acelerou, o puxador cantava a toada e o coro respondia, o feirante gordo rebolava, a rainha e a corte de mulheres rodavam as saias e eu senti algo estranho se aproximar de mim, invisível e traiçoeiro. Saquei a caneta e o caderninho de notas, mas o calafrio não me deixava escrever. Quando percebi que daria vexame igual ao vendedor de laranja, saí de perto do batuque, fui pra longe, sentei numa mesa e pedi um guaraná.
– Dessa vez escapei por bem pouco, falei alto.
A mulher da barraca percebeu minha palidez e perguntou o que eu tinha. Relatei o acontecido. Ela riu e me disse que o toque era pra Jurema.
– Me atuar com caboclo, eu, um intelectual sério?
– São ciladas do carnaval. Chega perto quem não tem medo nem deve.
Falou debochada e saiu pra buscar meu caldinho de feijão.


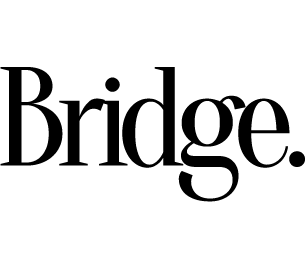
No Comments