
27 set Adeus, Guita Charifker!
Abandonei a sala antes de projetarem as imagens de cachoeiras, vales, lagos, despenhadeiros e campos floridos, com frases sobre o bem e a eternidade. O mesmo repertório de outras despedidas, a música new age e as pétalas de rosas caindo do alto, enquanto o ataúde era engolido para dentro de um espaço obscuro. Imaginei a morta sentada numa poltrona na primeira fila do velório, olhando a cena com humor cáustico e reclamando.
– Por que não escolheram uma canção de Chico Buarque? Melhor se mostrassem minhas aquarelas, ao invés dessas paisagens!
Guita Charifker morreu. Antes que ela virasse sonho eterno, já havia largado a pintura há mais de dez anos e, lentamente, como crepúsculo boreal, a paixão pela vida. Fiel à sua rebeldia exigiu ser cremada, contrariando as leis do povo judeu.
– Espalhem as cinzas no jardim de minha casa.
A casa do Amparo, em Olinda, que ela comprou e restaurou com a venda de desenhos e aquarelas. Ampla, alta, caiada de branco, dando para o quintal e os jardins, que haviam sido um horto botânico, há muitos anos. As portas e janelas se abriam para o mundo, acolhedoras às ideias arejadas e às pessoas amigas. Guita e a casa viraram uma mesma entidade generosa e desapegada.
– Entre, fique pro almoço. Joaninha fez um doce de banana com frutas do quintal.
(Joaninha, a servidora fiel, partiu um mês antes. Foi abrir a porta do céu e arrumá-lo.)
Guita fala por nada uma de suas frases habituais:
– É muita coisa acontecendo.
Muita, nos papéis espalhados sobre a mesa de trabalho e com os pincéis trazidos do Japão por alguém.
– Nem lembro quem trouxe, ando esquecida. Envelhecer é péssimo.
Acende um cigarro.
– Dizem que faz mal. Eu, hein? Uma coisa tão pequena fazer mal!
E logo em seguida:
– Só quero viver enquanto trabalhar. É chato depender dos outros.
Mostrava os pés de jasmim floridos. No fundo do quintal, o cajazeiro secular tombou. Queixava-se das freiras de Santa Gertrudes. Não sei o que elas fizeram, mas eram as culpadas, eu concordava.
– O pior é o calor. Sou judia de Olinda, a reencarnação de Branca Dias. Dizem que ela jogou as jóias no rio do Prata. Minha avó perdia tudo o que usava. Um dia, eu saí pro carnaval, e quando voltei pra casa estava sem o anel de brilhante. Não sei quem arrancou do meu dedo.
Um presente do sogro joalheiro.
– Seu Samuel me deu muitas joias. Empenhei todas na Caixa do Rio de Janeiro e nunca fui buscar. Eu, hein? Não me acostumo ao calor. Minha família veio da Ucrânia, lá faz bastante frio.
O pai e a mãe chegaram da Europa Central, no porto do Recife, em 1915, fugindo aos pogroms, aos campos de concentração, ao holocausto. Guita nunca tinha certeza do local exato de origem. A geografia na Europa se redesenhou em sucessivas guerras, revoluções e anexações de territórios.
Rosa e Salomão Greiber parecem pequenos, numa foto com Guita e o filho mais novo. Há tanta beleza e harmonia no retrato, dói saber que os dois morreram cedo, vítimas de tuberculose.
O neto lê um necrológio em que lembra o ecumenismo da avó. Ela se declarava uma judia filha de Oxum, devota de Santa Clara, simpatizante de religiões orientais.
– Que sua recusa a qualquer tipo de intolerância sirva de exemplo, proclama.
– Amém.
Às nossas costas, fecham as portas corrediças e ficamos trancados no cubículo. Vai ter início a solenidade de cremação.
Revejo fotos de corpos amontoados em carroças, levados aos crematórios. Não consigo não pensar nessas coisas. Lacan fala em deslizamentos do inconsciente. As portas fechadas e o crematório me provocam avalanches de lembranças. Fujo da sala claustrofóbica. Lá fora, a tarde se põe linda, alegre como as aquarelas de Guita. Viva a vida! Sempre. Ela diria bebendo o uísque, fumando um cigarro, abrindo a mapoteca onde guardava os trabalhos que escapavam às vendas e aos presentes.
– Escolha uma gravura para Avelina.
– Não, Guita.
– Eu quero dar.
Nas paredes da casa, desenhos minuciosos a bico de pena, figuras antropomórficas, que o tempo e a umidade de Olinda escureciam.
– Você é desleixada, Guita. Não basta ser pintora, é preciso zelo, catalogar o que faz. Com quem está o que saiu da mapoteca? Quem anota o destino do que você pinta?
– Não nasci com vocação para burocrata. Sou uma artista.
Que pintou no México; em Santa Tereza e na Urca, quando morou no Rio de Janeiro; em Taiba, no Ceará; na ilha de Fernando de Noronha; séries exuberantes no Sítio Santa Clara, em Paulo de Frontin; muito em Olinda. E, bem mais tarde, na paisagem agreste de Chã Grande.
– Gosto desse ocre das novas aquarelas.
Ela finge indiferença ao meu comentário. Respiramos as flores do jardim úmido. Há entre nós uma nostalgia lamuriosa. Conto pedrinhas recolhidas no quintal e nas viagens, arrumadas meticulosamente num batente do terraço. Uma ordem obsessiva. A mesa de trabalho se entulha de caixas vazias de chocolate, queijo, biscoitos… Parecem obedecer a um projeto. O mesmo do caixão de pinho, onde gravaram a estrela de Davi, as inicias do nome, e o corpo descansa por último, lacrado, sem chance de ser visto novamente. Um costume judaico que aprecio.
– Já vou, grita a velha empregada Joana, no andar de cima.
– Até amanhã, responde Guita.
Os sabiás bebem água, escuto a porta bater, aceito um cigarro. Talvez seja o momento de ir embora. Contemplo a mulher com olhos sombreados de azul e batom rosa claro nos lábios. Já não sei que tempo é esse, se ontem, hoje ou amanhã. Distraí-me. Ela fala que não tem vocação para o casamento e que não há mistério em pintar aquarelas, basta água, tinta e paciência. Sorrio e me pergunto quantas vezes escutei isso. Abraço a artista admirável, sinto a força de nossa amizade.
Lembro versos do poeta Assis Lima:
“Cabe-nos o presente,
que, por sinal, já passou.”
Despeço-me.
– Adeus, Guita, até quinta-feira.


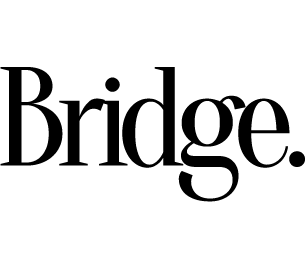
No Comments