
22 out O teatro sem nacionalidade de Peter Brook
Antes de iniciar seu trabalho com o Centro Internacional de Pesquisa Teatral, sediado na França, Peter Brook ainda se fazia essas perguntas: Por que fazer teatro? O que é uma palavra escrita? O que é uma palavra falada? Brook decidira, junto com atores de diversas nacionalidades, desaprender as certezas no teatro e buscar uma nova linguagem. Ele não desconhecia os enganos da palavra “experimental” e sabia que a oposição entre experimental e tradicional era um artifício.
Peter Brook, um autodidata que começou a dirigir cinema e teatro aos dezenove anos, sem nunca ter assistido a um ensaio sequer, era inglês, filho de judeus russos, com o lastro da cultura britânica. O teatro burguês feito na Inglaterra, e o próprio teatro shakespeariano de então, pouco tinha do “questionamento apaixonado sobre a experiência individual e social e seu sentido metafísico de terror e espanto”, característico da era elisabetana.
Era possível a Peter Brook, na Europa do pós-guerra, o permanente intercâmbio com os novos experimentos e as tradições. Livre de qualquer censura ou preconceito, aberto às loucuras de Dali e Genet, Brook nunca mencionou o sentimento de traição a esta ou aquela cultura. Não há um único relato seu em que afirme estar criando o “verdadeiro teatro inglês”. Brook cria para a humanidade, sem ranços de nacionalismo.
A esquerda brasileira concebeu uma modalidade de culpa não tratada pela psicanálise. O complexo edipiano gerado pelo desejo de matar o pai foi substituído pela culpa de produzir qualquer arte que não fosse politicamente engajada nos ideais da esquerda. Acabou a ditadura militar, mas permaneceu a censura inconsciente, que nos cobra a criação de cinema, literatura e música sobre nossa realidade política e social ou sobre aquilo que se batizou de “as verdadeiras raízes da cultura popular brasileira”.
Numa entrevista, Peter Brook afirma ter nascido sem racismo, e não enxergar diferença alguma entre as pessoas, a não ser no âmbito da cultura. Que as diferenças existentes no mundo são, ao mesmo tempo, magníficas e assustadoras, mas que não levam ao reconhecimento de uma superioridade cultural e sim a terríveis situações de conflito. Percebe-se a liberdade com que Brook transita pela arte de todos os povos, graças a essa ausência de preconceito ou culpa, e ao desapego a qualquer forma de nacionalismo.
Até mesmo o poeta americano Walt Whitman, que cantou a liberdade, o feminismo e o amor entre pessoas do mesmo sexo, era um nacionalista democrata. Mas ele apoiou a ideologia expansionista do Destino Manifesto, que pregava o direito concedido pela divina providência, aos Estados Unidos, de se espalhar por outras partes da América e do Mundo. Ao contrário de Brook, que não reconhece supremacia de povos, Whitman escreveu que “Os americanos de todas as nações em qualquer era sobre a terra provavelmente têm a natureza poética mais completa”.
Quando Antunes Filho deu uma entrevista sobre a encenação da Epopeia de Gilgamesh, comentou ter chegado perto de realizar uma montagem como a do Mahabharata de Peter Brook, mas o pioneirismo lhe fugiu. É possível que a escolha de Antunes por um texto épico da tradição mesopotâmia, tenha sido encorajada pela escolha de Brook por um épico da tradição indiana. Resta a pergunta: por que Antunes não se antecipou a Brook?
Será que nos sentimos culpados em transitar por outras culturas, como faz Brook? Falta-nos a convicção de que temos direito ao patrimônio cultural comum a todos os homens? Ou nossa fidelidade ao sonho de criar uma arte genuinamente brasileira, nos aprisiona ao invés de libertar


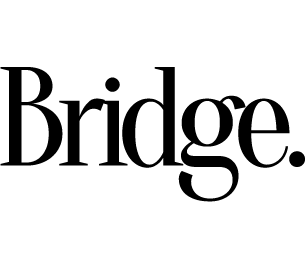
No Comments