
28 out O que levo e o que deixo
O que faço de um chaveiro com um boné de louça, em que está escrito: Raimundo Leandro – 80 anos? O objeto surgiu dentro de uma caixinha azul, em meio às quinquilharias de um armário. De repente, lembrei o tio padrinho, na cidade de Várzea Alegre, no Ceará, e da festa a que não compareci por medo de encontrar a família. Raimundo Leandro morreu. Os mortos deveriam carregar suas lembranças.
As mudanças nos obrigam a mexer em gavetas, a revisitar guardados e buscar uma função para eles na vida atual. Meu filho encontrou uma caixa de música na forma de uma cabeça de gato. O brinquedo, que pendurávamos em seu berço, ainda toca e mexe os olhos. Está perfeito. Poderia servir para os netos e foi preservado com esta intenção. Num mundo sem compromisso com o passado, em que até a memória é deletada, a eternidade de algumas coisas incomoda.
Durante anos orgulhei-me de duas cadeiras de jacarandá e palhinha, desconfortáveis, mas soberbamente bonitas, que ladeavam uma cômoda do século dezenove, de amarelo vinhático e com puxadores de prata alemã. Tanto o jacarandá quanto o amarelo são madeiras de lei, de árvores em extinção. Um armário de cerca de trezentos anos também nos orgulhava pelo seu peso e resistência, parecendo um dólmen plantado em nossa sala. Esse mobiliário parece pesado e obsoleto em apartamentos com móveis de compensado e mdf, com durabilidade de 12 ou 15 anos, feitos para descartar.
Quando nasceu meu primeiro filho, papai e mamãe fizeram uma pequena rede para ele. Durante noites, eles confeccionaram as varandas de linha, em pontos de nó, um trabalho de paciência e amor. Os nossos três filhos foram embalados, dormiram e sonharam nessa rede, um mimo dos avós. Ela está entre os nossos guardados, outros corpos pequenos sonharão ao balanço dos punhos.
As casas guardam memórias de pessoas, através de objetos. Quando morreu nosso avô materno, a avó levantou uma parede, dividindo a casa em duas. Um lado servia apenas para guardar os trastes do avô. Entrávamos nos aposentos escuros como numa igreja medieval. Era como se nosso avô nunca tivesse ido embora da casa. Na verdade, seus gestos continuavam por ali, como no poema do peruano César Vallejo.
Ao mudar de casa para um apartamento, precisei arejar os baús, decidir o que continuaria comigo, despedir-me do que já não tinha significado. É possível que mais tarde eu sonhe com esses objetos que me deixam. Ou, talvez, me sinta mais leve, pronto para uma viagem, apenas com um guarda-sol como o poeta japonês Bashô. Viver é administrar perdas. Acho que muitos já escreveram essa frase. É melhor parar por aqui, pois a conversa descamba para a autoajuda.


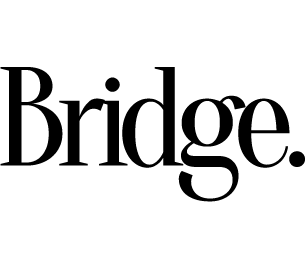
No Comments