
01 mar O lampejo da morte
Dizem que existe fidelidade entre os casais de cisnes e que quando morre um deles, o outro não demora muito tempo vivo. Não é um achado comum no reino animal. As mães defendem seus filhotes, e há relatos de alces que se entregam à mira dos rifles dos caçadores, para proteger as manadas. Fomos pródigos em atribuir sentimentos de lealdade e servidão aos bichos, em elegê-los como símbolos de qualidades humanas. O bode simboliza a força vital, a libido, a fecundidade. A tartaruga a regeneração, a estabilidade e o conhecimento. O corvo é considerado de mau agouro, pode atrair desgraça. O boi é um símbolo de bondade, de calma, de capacidade de trabalho. A águia é a rainha das aves, substituta ou representante das mais altas divindades. E o tigre só comporta sinais negativos, as idéias de poder e ferocidade.
Cada povo criou uma mitologia própria em torno dos animais, celebrando-os em cultos e adorações. Atribuíram coragem, lealdade, argúcia, inteligência, honradez, mesquinhez e covardia aos seres que os livros de zoologia classificam de irracionais. Em alguns povos, os feitos heróicos das tribos são prerrogativas animais. Personagens míticas ora adquirem forma humana, ora retornam ao estágio animal, na forma de jabuti, raposa, onça, ou o que seja. No clássico Ramayana, o mais famoso relato épico da Índia, um dos heróis centrais da narrativa é um macaco, Ranuman.
A mitologia e o imaginário em torno dos animais remontam ao tempo em que vivíamos próximos deles, caminhando atrás das manadas, caçando ou esperando que algum morresse, para nos alimentar. A Epopeia de Gilgamesh, poema mais antigo de que se tem registro, relata o ardil usado para separar o herói Enkidu das gazelas com quem ele vivia, comendo, dormindo, e transando. Passados milênios, desgarrados da natureza e do sagrado, já não somos capazes de imaginar o quanto fomos próximos dos outros animais. Esses que exterminamos a cada dia, até que não reste nenhum para contar a história.
A intimidade que nos fazia quase iguais, a ponto de nos confundirmos nas fabulações e nas lendas, com o passar do tempo mostrou sutis diferenças. Imagine um pequeno agrupamento humano seguindo de perto uma manada de antílopes. Imagine que um dos antílopes se machuca e morre, mas a manada prossegue, em busca de água e pastagem. O semelhante é deixado para trás, sem lamentos, sem pranto, sem honras funerárias. Imagine que num outro dia, num tempo em que a média de vida humana era de vinte anos, um dos velhos da tribo nômade adoece e morre. A marcha cessa, os membros da tribo gritam, a companheira do morto arranca os cabelos e cobre a cabeça de cinza. Quatro rapazes são despachados para acompanhar a manada e não perdê-la de vista, enquanto as outras pessoas preparam os rudimentos de um funeral. Cavam um buraco na terra, enterram o corpo enrijecido, e ao lado dele depositam seus poucos pertences: a lança, o arco, as setas, um colar de pedras.
O trajeto para a consciência da morte talvez represente o grande passo na evolução do homem, o que mais o diferenciou na escala animal. Retornemos bem mais longe nessa caminhada em rebanho, ao instante em que um primeiro homem, ou um rudimento do que seria um homem, contempla seu semelhante caído, e tenta que ele se mova ou emita um som. Nada. Há bem pouco, esse que agora já não se move, subia em árvores, atirava pedras num antílope, brigava por um pedaço de carne. O companheiro se agita, tenta mover as mãos do morto, enfia o dedo em sua boca. Pela primeira vez, desde que esses homenzinhos ocupam o planeta, um deles tem a consciência de que algo que foge ao controle e a vontade aconteceu: a morte. Ele tenta comunicar sua descoberta aos outros, simbolizá-la. Uma dor que difere do sofrimento físico se insinua dentro dele, mas ele ainda não sabe o que ela significa.
O bando parte. Nosso primeiro homem consciente da morte caminha e olha para trás. O companheiro não se move e isso o incomoda. O corpo permanece estirado no chão, do mesmo modo que o antílope. A manada segue em frente, insensível. Nosso herói se inquieta, teme prosseguir. Um novo conhecimento se insinua nele. Difere da técnica de produzir fogo, do manejo do arco, da coleta de um fruto. Nosso herói foi iniciado na subjetividade da morte.
Estamos nos primórdios da história do homem. Ele já pergunta por que deixamos de ver, de ouvir, de caminhar, e de falar. Elabora imagens sobre a morte, tenta representá-la. Surgem rudimentos de cidades, aumentam os agrupamentos e as questões se alargam. A morte é para sempre, ou apenas transitória? Teremos uma outra vida depois dessa, num lugar longe daqui? As perguntas se transformam em representações na pintura, na poesia, na música, no teatro e na dança. Surgem a arte e a filosofia. Fundam-se as religiões, elaboram-se os conceitos de alma e espírito.
O melhor registro da história do homem se fez em urnas funerárias, em covas rudimentares, potes de argila, túmulos luxuosos ou pirâmides. Suspeitando que do outro lado da morte poderiam necessitar dos bens que possuíam na terra, os homens criaram rituais de sepultamento. Alguns levavam junto consigo o navio, o cavalo e as armas. Outros se enterravam com esposas, escravos, animais de estimação, roupas, jóias e mobílias. Dos mais pobres aos mais poderosos, dos mais simples aos mais sábios, em qualquer tempo, sofremos a mesma perplexidade e incerteza. A pergunta que se fez o nosso herói primitivo continua sem resposta. O caminho da morada do outro lado só possui o desenho de ida. Perdeu-se o traçado da volta. Desde muito o procuramos em vão.


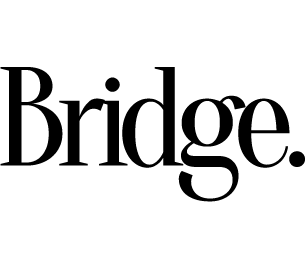
No Comments