
25 jul O rifle e a lança
Acho que se chamava Otacílio Valdevino, também poderia ser Vicente Moreno, o nome já não possui significado. As fitas cassete em que registrei sua voz foram esquecidas em gavetas ou tornaram-se impossíveis de reproduzir. Transcritas, suas histórias ganharam edição em livro, mas os gestos do narrador, as modulações da fala e as longas pausas com que deixava a plateia suspensa se perderam. Talvez. Muitos que o escutavam repetem movimentos de mãos, meneios de cabeça, tons de voz, sem reconhecerem a genética dessa herança. Esqueceram Otacílio ou Vicente – o nome não importa –, mas o personagem continua neles, como os restos orgânicos de um mundo primitivo.
Apressado e sem sutileza, eu queria registrar o máximo de narrativas, pouco ligando para as exigências do narrador.
– Assim eu não consigo. De dia? Quem já se viu contar história de dia? E falando pra essa máquina? Tenho de relembrar coisas antigas, a memória cobriu-se de poeira.
Eu insistia e ele emperrava.
– Arranje um bando de meninos, traga aqui em casa de noite, aí eu faço uns arremedos.
De noite, havia apenas a luz de um candeeiro e tições acesos no fogão de lenha. O velho sentava na rede como se montasse um cavalo, os pés tocando o chão de leve, num impulso de balançar. Meninos e vizinhos chegavam atraídos pelo gravador – máquina precária, parando a intervalos para mudar a posição da fita ou substituí-la.
– E quem falou que eu sei contar história?
Era a fórmula do começo. A plateia se manifestava em vozes desencontradas, enfatizando as qualidades do narrador. A esposa, sem paciência com os adiamentos, implorava do seu lugar.
– Vai homem, deixa de conversa fiada e conta logo!
Ainda faltava enrolar o fumo em palha de milho, acendê-lo na chama do candeeiro, tragar fundo.
– Vocês querem ouvir o que?
Nesse segundo prólogo, ouviam-se as sugestões.
Arbitrário, o narrador não realizava desejos. Puxava o fio de uma história que havia preparado, acrescentava detalhes e emendava pedaços de outras narrativas. Tinha sensibilidade artística, o narrar era também reflexão, não se confundia com o indefinível.
Todas as dores tornam-se suportáveis se você as puser numa história ou contar uma história sobre elas. Otacílio ou Vicente nunca falaram isso, mesmo que pensassem dessa maneira. Uma mulher que usava um nome falso de homem – Isak Dinesen – já escrevera a frase antes. Possuía uma fazenda no Quênia, onde plantava café. Quando seu amante a visitava, pedia que contasse histórias. Finch-Hatton, o aventureiro, se afastava por longas temporadas, conduzindo caçadores em safáris. Nessas ausências, Karen Blixen – o nome verdadeiro da escritora – criava as histórias que contava depois, em noites de amor e vigília.
Desde a primeira metade do século passado, observou-se que as pessoas ditas civilizadas já não tinham paciência nem perdiam tempo narrando e ouvindo histórias. Preferiam a companhia solitária de um livro, assimilar o que fora registrado em caracteres, supostamente fixos e imutáveis. Uma atitude bem estranha ao mundo africano, onde os registros se faziam através da memória das pessoas, sendo passíveis de acréscimos e decréscimos. Karen Blixen, como os somalis, quicuios e massais do Quênia, o Otacílio ou o Vicente do nordeste brasileiro, ou uma ancestral mais antiga, a Sherazade das Mil e uma noites, que barganhava a própria sobrevivência emendando fios de histórias, gostava de ouvir e narrar.
Embora tivesse publicado um livro de contos aos vinte anos e fosse encorajada a continuar escrevendo, Karen “nunca quis ser uma escritora”, “tinha um medo intuitivo de ficar presa”, pois “qualquer profissão, por designar invariavelmente um papel definido na vida, seria uma armadilha, escudando-a contra as infinitas possibilidades da própria vida”. Quando publicou o segundo livro, estava perto dos 50 anos. Enquanto viveu na África, entre os nativos para quem o corpo e a fala representavam os mais perfeitos instrumentos de narração, ela acumulou a sabedoria que transformou em linguagem.
Karen Blixen mudou-se para a África num tempo de expansão colonialista, quando a Europa parecia esvaziada do sentido de sua existência, uma desordem que resultou nas duas grandes guerras. Primeiro ela busca viver intensamente sua aventura, para só depois narrá-la. O que sempre me pareceu contraditório na vida dessa escritora é que, apesar de sua sensibilidade, do requinte com que analisa as filigranas da alma e do comportamento humano, ela nunca discute sua ação colonizadora, o fato de apropriar-se de territórios e bens de povos milenarmente assentados e vivendo numa África transformada em território de exploração colonialista e de caça.
No capítulo “Asas” de seu livro mais famoso, A fazenda africana, ela confessa o sonho juvenil de abater um espécime de cada tipo de caça existente. E quando narra um voo de aeroplano com o amante Finch-Hatton, sobrevoando uma manada de búfalos da montanha, não deixa de fazer um comentário predatório – “se quiséssemos, poderíamos abatê-los a tiros”.
Os bens de cultura são comuns a todos os homens como os livros de uma biblioteca, que lemos ao nosso gosto. Mas, apropriar-se de territórios alheios, no papel de colonizador, é sempre uma ação nefasta. Algumas sociedades primitivas evitam, outras buscam o contato com o mundo exterior, pelo qual se transformam ou extinguem.
Otacílio é um representante da sociedade onde nasceu e viveu. O jovem de gravador em punho já não pertence a essa sociedade, mas busca registrá-la e representá-la. Karen Blixen foi sensível à África, aonde chegou com seu projeto de colonizadora. As sociedades tribais levaram-na a repensar o papel do narrador, mas ela nunca chegou a ser uma voz da África, igual ao escritor nigeriano Chinua Achebe. Da mesma maneira, o sentido pelo qual matava leões, armada de rifle possante, não era o mesmo de um guerreiro massai, munido apenas de lança e escudo.


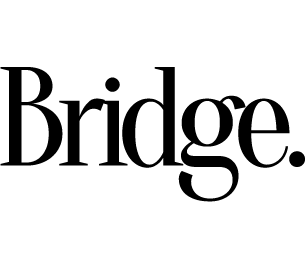
No Comments