
08 nov A vlogueira Kéfera Buchmann e a narradora Karen Blixen
Meu avô paterno José Leandro percorria a cavalo as dez léguas que separavam sua fazenda Rosário, em Várzea Alegre, das terras do mano João Leandro, no Crato. Eu poderia ter registrado sessenta quilômetros, mas não me agrada essa medida carente de poesia. Luiz Gonzaga gravou “Oh, que estrada mais comprida / Oh, que légua tão tirana” e “Eu já andei sem parar dezessete légua e meia”. Não teria a mesma beleza se cantasse quilômetro no lugar de légua.
José Leandro certamente não se ocupava com essas questões, enquanto esporeava o cavalo. Costumava visitar o único irmão homem, trocava experiências e conselhos com ele. De noite cedo, depois da janta, os dois armavam as redes na sala de visitas, escanchavam-se nelas como se fossem montarias e conversavam. Eram homens mansos, trabalhadores, começaram bem pobres e tornaram-se donos de terras, engenho de cachaça e rapadura, criatório de gado. Podiam se dizer ricos, num tempo em que a riqueza não implicava em luxo, ostentação e consumo. O mundo sertanejo primava pelo desconforto, linhas retas, amplidões e vazios.
Naquele encontro, talvez se perguntassem se havia futuro em plantar algodão. José Leandro, com a família grande de nove filhos, se mostrava temeroso. Habituara-se ao cultivo de arroz, milho, feijão, fava, cereais que garantiam o sustento da casa desde o casamento. Num ano bom de inverno, colhia oitocentos sacos de sessenta quilos de arroz, o que representava muito, considerando as dificuldades em escoar a produção agrícola. Quase tudo que se plantava era consumido. Quando o meu avô decidiu comprar uma máquina de costura para as filhas, precisou vender dez bois e boa parte da safra de arroz.
Numa das raras fotos de José Leandro, com a esposa, os nove filhos, um genro e o neto, ele se revela pequeno, os cabelos finos e poucos, os olhos quase fechados sugerindo a miopia, os lábios retraídos para o lado direito do rosto, em suma, um homem sem atrativos físicos. Morreu cedo, aos 54 anos, de febre tifoide. Dizem que nunca alterava a voz e o único impropério que saía de sua garganta era o nome “corno”. À primeira vista se reconhece no retrato um português do norte, chegado ao Recife pelo século XVII, migrado para o sertão dos Inhamuns e depois para o cariri, de genética bem preservada em casamentos consanguíneos, com alguma mistura indígena, pois os homens se uniam às índias por conselho da Coroa e da própria Igreja. Também se tem notícia e provas de cristãos novos batizados em pé, baldeando essa genética dos primeiros colonizadores cearenses.
João Leandro fazia o percurso contrário, do Crato a Várzea Alegre, com o mesmo pretexto de visitar o irmão e permanecer um tempo de homem atarefado, suficiente para uma conversa noite adentro, em fala baixa, que mal se escutava a um metro de distância. A reserva dos homens enchia minha avó ciumenta de curiosidade. Naquele mundo longe, ainda sobrava tempo e assunto para as conversas. Histórias da família se armazenavam na memória como os legumes nos paióis, recontadas muitas vezes, sem acréscimos. Os homens se promoviam a guardiões das lembranças. Nosso tio Raimundo era preciso, seco e cortante como a prosa de Juan Rulfo. Seus relatos nunca se modificavam, nem mesmo nas pausas. Sabia modular a voz em tragédias e comédias, com sutilezas de um homem sábio. As frases curtas e a máscara facial correta provocavam suspense na plateia. A mais perfeita literatura oral.
O meu pai, João Leandro como muitos na família, era proustiano. Suas histórias primavam na reprodução de cenários, descritos antes de ele introduzir os personagens no enredo. Possuía requintes de Sherazade, enfiava narrativas dentro de narrativas, edificando espirais de contos que se fechavam de maneira surpreendente. Quando narrava acontecimentos familiares para os irmãos, ninguém acreditava que ele tivesse guardado detalhes esquecidos por todos os demais, e fosse capaz de reconstituí-los com tamanha precisão.
Perdemos o hábito das conversas, a paciência de ouvir e narrar. Até nos celulares as pessoas preferem as mensagens ligeiras, escritas no WhatsApp, ou as falas curtas das gravações. As imagens se tornaram mais reais e eloquentes do que a presença física de corpo, voz, suor, odor e saliva. Nos bares, nas praças, nas festas, nos restaurantes, sons estridentes tramam contra nossa voz. Já não se pode dizer que vivemos para narrar, pelo menos da maneira como se narrava antigamente.
O escritor paulista Ferréz, numa conversa de aeroporto, me garantiu que no Capão Redondo, em São Paulo, onde acontecem as histórias dos seus romances, contos e poemas, a oralidade continua viva, apenas assumiu formatos novos.
Tento compreender o fenômeno Kéfera Buchmann, a vlogueira de 23 anos, que atrai milhões de pessoas, sobretudo adolescentes, com filmes de cinco minutos, no YouTube, onde assume o lugar de narrador provocativo, falando as coisas mais insólitas. E que vende, vende muito, como deseja o mercado e, talvez, ela própria. Kéfera foi eleita pela revista Forbes uma das jovens mais promissoras do Brasil. De atriz a youtuber com mais de 9,4 milhões de inscritos, transformou-se em escritora e foi promovida ao ofício de narrar.
Mas eu me refiro nessa crônica a outros tipos de narradores, àqueles que transportam seus espíritos para longe, construindo linguagem e poesia, metafísica e pensamento, como se propunha a dinamarquesa Karen Blixen. Na solitária fazenda africana, no Quênia, onde viveu cerca de vinte anos, durante os anos de estiagem ela escrevia para matar o tempo, enquanto esperava as chuvas. Inventava histórias que narrava a um único ouvinte, o seu amante inglês.
Crônica publicada na coluna Entremez, da Revista Continente #191
Ilustração: Janio Santos


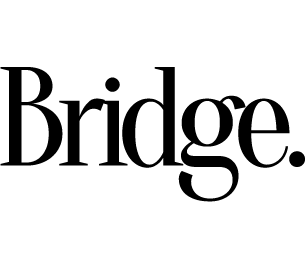
No Comments